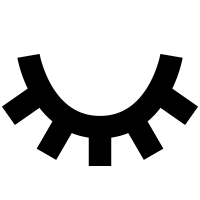Marcelle Souza
/
Jornalista, Especialista em Marketing Estratégico e Montadora
POrTAL TERRA NÉRDICA
Inocência Roubada | Crítica
É muito gratificante para quem realmente aprecia uma experiência cinematográfica perceber que o projeto entende o papel de cada equipe profissional envolvida para a criação de um filme. E melhor: além de entender, valoriza cada uma dessas funções. Esse é o caso de Inocência Roubada, longa francês que explora de maneira criativa as memórias relacionadas aos abusos sexuais sofridos por Odette, uma menina de oito anos, e algumas consequências em sua vida adulta.
Desde a primeira cena – uma dança intensa, na qual a personagem está completamente entregue ao momento – percebemos que o filme possui algo de diferente. Este gancho nos puxa para dentro do enredo e nos leva a querer acompanhar se existirão outras boas ideias como essa. E a resposta é sim! O longa está cheio de boas ideias! Por isso, não é surpresa quando descobrimos que Andréa Bescond e Eric Métayer estão à frente, tanto do roteiro, como da direção. De fato, um trabalho como esse precisa estar muito bem unido em suas bases principais para poder funcionar. Andréa, inclusive, interpreta Odette em sua fase adulta, uma dançarina contemporânea com grande potencial, que não consegue trabalhos a sua altura e tem problemas para se relacionar com outras pessoas.
Mas, como disse anteriormente, não são apenas roteiro e direção que se destacam aqui – roteiro que, mesmo assim, possui problemas, mas já já chegaremos lá. O filme é uma obra prima ao se tratar de montagem. Odette e sua psicóloga literalmente entram em suas memórias e interagem com elas a ponto de que, em certos momentos, não sabemos mais o que é real e o que é imaginação. Na primeira vez que somos apresentados a essas interações, somos enganados por imaginar que isso será levado para um lado mais cômico do filme, no entanto, no decorrer da trama, percebemos como elas são usadas para transmitir as emoções da personagem. A frequente utilização de match cuts também cria uma dinâmica belíssima entre as cenas, intensificando algumas passagens e mostrando que a vida da dançarina nunca para. A montagem inquieta é completada pelo frequente uso da câmera na mão para mostrar a instabilidade de Odette, a importante mudança nos tons dos figurinos a partir de determinadas mudanças em seu comportamento e as inserções sonoras, que, na maioria das vezes, substituem muito bem algumas falas. Além disso, é lindo como a direção trata do palco: um ambiente vazio, onde Odette se encontra com ela mesma, como se fosse seu subconsciente.
Embora tecnicamente o filme seja quase perfeito, o roteiro deixa a desejar em diversos momentos da história. Nada é muito desenvolvido, parece que tudo foi jogado na tela e acontecendo “do nada”. Por exemplo: não sabemos porque Odette começou o tratamento na psicóloga e muito menos entendemos como ele funcionou. A personagem começa a se “livrar” de seus traumas, mas não vemos motivo para isso estar acontecendo. A própria psicóloga (Carole Franck) também não é elaborada. Sabemos que ela é insegura e não se acha adequada para tratar de um caso mais complicado, mas em momento algum somos apresentados a ideia de que ela conseguiu se encontrar como profissional. Como Odette fez a transição do ballet clássico para a dança contemporânea? Isso com certeza foi um ponto de virada em sua vida que deveria ter sido tratado. A personagem da mãe (Karin Viard) também é inconsistente. Em alguns momentos achamos que ela é uma mulher que, mesmo rígida na educação da filha, consegue ser doce e teme que ela cresça, porém, mais para o fim do filme, ela vira outra pessoa e parece não se importar com a família, apenas com as aparências de uma vida perfeita. Em que momento isso aconteceu? Não sabemos. E o relacionamento de Odette com o namorado, até agora continuo tentando entender.
Dessa forma, o roteiro entroncado se junta a uma fotografia errada – clara e colorida – criando o maior problema do longa: o modo que a pedofilia é tratada. Assistimos às cenas de abuso na perspectiva de Odette criança, mas, aos poucos, com tantas informações sendo jogadas na tela, esquecemos que esse é o assunto principal e começamos a ver apenas a história da vida de uma dançarina e, quando voltamos para uma cena da infância, ela parece desconexa com o resto do filme. Um assunto tão importante como a pedofilia, deveria ser tratado com mais cuidado para não parecer ser apenas um chamariz para a audiência. A impressão que fica é que o longa tem tantas ideias, que poderia, facilmente, ser transformado em uma série – ou, pelo menos, durar mais que 1h43. Dessa maneira, seria possível desenvolver cada trama com a dedicação que merecem.
Inocência Roubada é um filme imersivo, com atuações dedicadas e ideias bem criativas, mas precisaria de mais tempo para poder cumprir sua função de tratar de como que os traumas da infância atingem a vida adulta. Faltou exatamente o desenvolvimento de como que a inocência de Odette foi roubada. No entanto, o longa tem tanto potencial, que deixa a vontade de assistir mais para entender.
A Grande Dama do Cinema | Crítica
Sem nenhum suspense, já posso adiantar que A Grande Dama do Cinema é um filme maravilhoso que merece, e muito, a sua atenção. O novo longa de Juan José Campanella nos conta mais um episódio da conturbada relação de um grupo de idosos que mora na mesma casa há mais de quarenta anos. Uma antiga estrela de cinema, um ator frustrado, um roteirista talentoso e um diretor derrotado são surpreendidos por dois jovens corretores que tentam convencê-los a vender o imóvel.
Logo, como já disse que o longa vale a pena, vou apenas explicar o porquê. Antes de mais nada, a cena inicial cria uma ambientação perfeita em torno da casa e dos personagens. Percebemos que a mansão não é apenas um local de moradia, a cenografia é extremamente detalhada, dando uma individualidade e, principalmente, um passado para a casa. A trilha sonora mostra que tudo de material está parado no tempo, enquanto nós sentimos o peso dos quarenta anos para os personagens e de todas as histórias que se passaram entre eles. Detalhe para uma estátua no jardim que é mostrada de diferentes enquadramentos e que, a cada vez que é exibida, parece que está prestes a anunciar um novo acontecimento – como atos de uma peça – até que descobrimos seu real significado para a trama (é de explodir a cabeça).
O roteiro é cheio de ironias, metalinguagens para compor humor inteligente que brinca com as palavras e faz diversas pegadinhas com o espectador. Tudo é apresentado como um jogo entre velhice versus juventude e não me recordo de nenhum filme que tenha representado tão bem a ideia de que “perde-se a batalha, mas não a guerra”. Divirtam-se com a cena da sinuca que, além de engenhosa, é inventiva e bem engraçada. A direção de Campanella também é essencial para o sucesso do longa. Sua câmera, sempre em posições e enquadramentos estranhos e tortos, mostra que algo está errado naquela casa. Dessa forma, até uma simples cena de diálogo, com plano e contra plano, ganha muito mais atenção do espectador. Isso, sem falar no que é mais importante para o filme: os atores.
Marcos Mundstock interpreta o roteirista Martín Saravia. Por mais que, de todos os amigos, ele é o que tem menos tempo em tela, suas falas são as mais interessantes e suas poucas cenas são marcantes. Lembra da sinuca que eu falei a pouco? Esse é seu grande momento! Nicolás Francella é Francisco Gourmand, agente cuja função é conquistar e convencer a atriz sobre a necessidade de vender sua propriedade. Sua participação é boa, porém, não tem tanto destaque. Oscar Martínez surpreende ao transformar e aprofundar o diretor Norberto Imbert. Ao contrário do que acontece com o roteirista, Martínez desfruta de cada segundo em tela. Ele é irônico, observador e sempre possui uma carta na manga para surpreender o espectador. Luis Brandoni está ótimo dando vida ao inocente Pedro De Córdova, um ator desapontado com a carreira e cheio de dúvidas sobre sua real importância na vida dos companheiros. É impossível não sentir pena quando ele arregala os olhos e sua expressividade nos lembra uma criança que foi proibida de brincar na rua com os amigos.
Eis que posso comentar sobre as estrelas do filme: as mulheres. Clara Lago interpreta a grande vilã da história, a agente Bárbara Otamendi. Sua personagem é falsa, ardilosa e, para o temor de todos, muito inteligente: um típico exemplo de antagonista que amamos odiar. Já Mara Ordaz, personagem de Graciela Borges é perfeita em todos os sentidos. Ela consegue caminhar entre uma mulher vaidosa que usa roupas exuberantes, completamente ácida e nem um pouco humilde, a uma pessoa frágil, presa em suas memórias e corroída pela culpa. É através dela que percebemos que o filme, na verdade, se trata de um drama travestido de comédia. Ainda vou esperar uma indicação ao Oscar de Melhor Atriz – de preferência com a cena da sobreposição de imagens do refletor na hora que anunciarem seu nome. Que cena!
Não irei comentar sobre o – brilhante – final porque quero que todos corram para o cinema assistir a A Grande Dama do Cinema. Tem humor para quem gosta de comédia, drama para quem quer chorar, suspense para quem se interessa em resolver mistérios e até uma bela homenagem a sétima arte. Com certeza, um filme que vale o seu ingresso.
Divino Amor | Crítica
Não tenho dúvidas que o pernambucano Gabriel Mascaro é um dos melhores diretores de sua geração. Boi Neon, Ventos de Agosto, Doméstica: ele já provou que sabe mexer com todas as emoções dos espectadores, tanto na ficção, quanto no documentário. Por isso, minha expectativa foi nas alturas quando assisti ao trailer de Divino Amor, um filme cujo enredo, a princípio, me fez imaginar uma espécie de mistura entre Black Mirror e The Handmaid's Tale por tratar de assuntos como a tecnologia em uma sociedade extremamente burocrática e religiosa. Altas expectativas podem ser muito prejudiciais para qualquer experiência se o produto não entrega aquilo que esperamos. Felizmente, esse não é o caso aqui.
O longa é uma distopia futurista e conta a história de Joana (Dira Paes), uma mulher extremamente religiosa que trabalha como responsável da área de divórcios do cartório. Por acreditar piamente na eternidade do casamento, ela tenta convencer todos os casais que atende a dar uma nova chance para o amor através da religião. É fato que o título e a sinopse podem enganar os desavisados – na minha sessão, várias pessoas abandonaram o filme, principalmente pessoas de mais idade. Divino Amor é forte, trata do sexo e da religião em seus mais altos níveis, ironiza os fanáticos e, principalmente, assusta por apresentar um futuro palpável, quase profético.
Gabriel Mascaro brinca o tempo todo com as cores, principalmente rosa e azul, para alfinetar o velho discurso de “meninas usam rosa e homens usam azul”. A “igreja” a qual Joana frequenta tem uma estética neon, completamente fora do normal. Inclusive, há uma cena em que vemos todas as casas da rua em que a personagem mora e a dela é a única com uma luz vermelha no interior, claramente fazendo alusão a um prostíbulo, ou um lugar onde o sexo tem muita influência. Isso tudo faz uma bela contradição com o cartório em que Joana trabalha, onde a única cor predominante é o cinza. Os enquadramentos escolhem muito bem o que vão mostrar e o que vão esconder do público, dando aquele gostinho de que falta algo, mas tudo bem proposital. O diretor faz com que esperemos ansiosamente cada nova cena, não apenas para dar continuidade à história, como para ver quais surpresas e sensações ele irá tratar a seguir. A narração infantil ao fundo entra em momentos certos para aumentar essa ansiedade e contrapor a voz leve e calma da criança com toda a tensão do filme. E a trilha sonora... é tão marcante que arrepia a todo instante elevando e conectando o ápice de cada cena.
O futuro construído pelo filme é amedrontador. O Brasil regrediu como sociedade enquanto avançou na tecnologia. Logo no início, vemos vários casais na praia: os homens de sunga e as mulheres cobertas por um maiô da cabeça aos pés. A “igreja” só permite a entrada de casais, ninguém pode entrar desacompanhado – é importante ressaltar que em nenhuma ocasião é mostrado um casal homoafetivo, dando a entender que esses não pertencem a tal realidade. Também há um drive thru de orações onde o pastor se aproveita da fé dos crentes repetindo apenas frases genéricas como “se quer respostas, Deus vai dar perguntas” ou “pra quem tem fé, nada é impossível”. Nesse meio tempo, a tecnologia aparece apenas em objetos ligados ao governo e, consequentemente à Igreja, nunca na vida do cidadão, tendo o cúmulo desse progresso em um detector que identifica, entre outras coisas, o estado civil das pessoas e solta uma frase parecida com “Governo Brasileiro, cuidar da vida é o nosso trabalho”.
Com relação às atuações, a Dira Paes está incrível! Ela é a alma do filme e consegue alcançar – e transmitir – sensações tão fortes que o espectador pode se colocar no lugar dela. Em alguns momentos nos incomodamos com suas ações, em outros temos pena e, em outros, temos vontade de sacudi-la pelos ombros para fazê-la acordar para a realidade. No entanto, como todo o longa é em sua perspectiva, percebemos que, na verdade, ela acredita verdadeiramente que está fazendo a coisa certa. Júlio Machado interpreta Danilo, marido de Joana, e desenvolve bem o personagem, mas não consegue entregar todo o seu potencial. Parece que, ao lado de Dira, ele trava e termina não mostrando o real motivo de estar ali.
Divino Amor absolutamente não é pra qualquer um. É um filme denso, com cenas chocantes e que não tem medo nenhum de irritar os espectadores que caírem de paraquedas na sessão. Talvez o ato final merecesse um pouco mais de intensidade para acompanhar todo o turbilhão de emoções durante o restante do longa. Mesmo assim, a coragem do diretor e do elenco merece que o filme seja visto e revisto para que possamos sair cada vez mais instigados com tudo o que assistimos na tela.
Espírito Jovem | Crítica
A princípio, Espírito Jovem me enganou. Mesmo achando que tinha tudo para ser um melodrama clichê sobre uma adolescente “invisível” que consegue ganhar na vida e provar a todos que estavam errados, o longa de Max Minghella possui diversas qualidades que, por um tempo, fiquei esperançosa de que estava assistindo a algo diferente na tela do cinema. A verdade é que, infelizmente, um ótimo trabalho de direção nem sempre é suficiente para salvar um filme do óbvio. O problema aumenta quando descobrimos que o mesmo diretor que enche nossos olhos com uma fotografia estupenda e movimentos de câmera marcantes é o culpado pelo roteiro medíocre.
O enredo conta a história de Violet (Elle Fanning), uma adolescente que sonha em virar cantora, mas sua condição financeira não permite que sua ambição se realize. Um dia, um programa de calouros passa por sua cidade e ela pede ajuda a Vlad (Zlatko Buric) para que tenha a oportunidade de alcançar a fama. Quantas vezes já não escutamos isso, não é mesmo? O longa tenta se diferenciar em alguns aspectos. Violet é imigrante, sua mãe é desequilibrada e várias vezes, os papeis de mãe e filha se invertem, Vlad possui uma relação conturbada com a filha e outros pequenos detalhes que, no fim, são completamente descartados do filme. Tudo é superficial. Quando achamos que o longa finalmente irá sair da zona de conforto, ele regressa e volta às fórmulas básicas de Sessão da Tarde. Além dos fatos comentados há pouco, a relação da banda de Violet poderia ter sido explorada e a cena durante os créditos, com certeza, precisava ser cortada, não apenas por já ter sido vista milhares de vezes, como por anular toda a importância do fim subjetivo. São tantas as oportunidades perdidas que saímos da sessão com o sentimento de condolência por tudo o que poderia ter sido, mas não foi.
No entanto, enquanto o roteiro realmente deveria ter sido revisto, Minghella realiza um trabalho excelente com a direção. São poucos os planos em que sua câmera não está em Violet. Ela parece querer sair da tela, assim como sua personagem deseja sair de sua vila e ganhar o mundo. O diretor segue a menina em sequências quase coladas em seu rosto, realçando a expressão e desfocando em momentos cruciais para entendermos os sentimentos da menina. Aliás, uma lente grande angular é usada em diversas passagens, aumentando a profundidade dos espaços cênicos e evidenciando alguns personagens ou ações. As cores leves mais presentes no primeiro ato, quando Violet ainda está sem sua rotina normal, fazem um ótimo contraste com o mundo neon que ela encontra quando começa a participar do programa. Há uma cena de plano sequência que, mesmo banal pelo momento em que acontece, consegue chamar atenção pelo ato final que esperamos que se concretize. A trilha sonora enaltece cada vivência da personagem e acerta em colocar músicas conhecidas do público, porém tirando as vozes e deixando apenas o instrumental. Assim, sabemos o que a canção quer dizer mesmo sem a escutarmos completamente. Por último, a montagem não é obvia e intriga o espectador ao oferecer informações que acrescentam na história de forma dinâmica e visualmente bonita.
Elle Fanning é uma boa atriz, mas ainda precisa amadurecer o seu trabalho: é bem contida nos momentos certos e consegue transmitir uma infelicidade real apenas com os olhos, contudo quando a cena exige um pouco mais da atriz, ela não chega lá. Mesmo assim, gostei muito de toda a composição da última apresentação. Assim como sua personagem, Fanning se solta e emociona com a surpresa do feito que acabou de alcançar. Agnieszka Grochowska está muito bem como a mãe de Violet, perdida, sofrida e rígida. A atriz endurece o corpo e o rosto durante toda a sua participação e entendemos os motivos por ela ser assim. Zlatko Buric também merece seu crédito. Sua relação com Violet, por mais inesperada que seja, é verdadeira e simpatizamos com o velhinho descabelado com o sotaque diferente. É uma pena que, por mais que tenha bastante espaço em tela, ainda sentimos que ele merecesse mais desenvolvimento. Rebecca Hall faz uma pequena participação como a produtora Jules e preciso admitir que, por menor que seja, achei-a muito pertinente. Jules não é apresentada como uma vilã, o que seria esperado, e sim como uma mulher de negócios que não se importa se os outros cometem erros, porque ela sabe que sempre sairá ganhando.
O fim de Espírito Jovem é basicamente uma explicação de todas as qualidades e defeitos do filme. Enquanto somos apresentados a um resultado previsível, a maneira como ele é mostrado nos cativa e ficamos com um sorriso no canto da boca ao percebermos que a trajetória é mais importante que seu fim. No entanto, logo em seguida, durante os créditos, esse sorriso é destruído porque o filme nos conta exatamente aquilo que não fazíamos questão de saber e, pior, se encerra com a frase mais trivial possível. Dessa forma, o longa termina sendo um exemplo perfeito de como uma direção majestosa e um roteiro lastimável tornam-se responsáveis por uma montanha-russa de altos e baixos.
Anos 90 | Crítica
Quem só conhece Jonah Hill de comédias como Superbad e Anjos da Lei provavelmente irá se surpreender com a estreia do ator no roteiro e na direção. Porém, quem já conferiu alguns de seus trabalhos mais “alternativos” conseguirá enxergar semelhanças nos traços de seu novo longa Anos 90. O filme acompanha Stevie (Sunny Suljic), um pré-adolescente que começa a andar com um novo grupo de amigos e se interessar por skate. Uma trama simples e, ainda assim, interessante.
A direção de Jonah Hill é extremamente perceptível e ele consegue nos levar de volta aos anos 90 de uma maneira natural, sem cair nas armadilhas dos clichês. A tela é fechada em 4:3 – lembra da TV de tubo? – e bem granulada, dando a impressão não apenas de que os personagens estão vivendo décadas atrás, como que o próprio filme foi produzido nessa época. Além disso, a montagem é fluida e conduz cada emoção que sentimos durante o longa, nos divertimos, ficamos com raiva ou temerosos assim como o protagonista, ou melhor, junto do protagonista. A trilha sonora é ideal por não escolher nenhuma música previsível. Sentimos a idade das canções mesmo quando não as conhecemos.
Enquanto a direção é bem precisa, o roteiro de Hill tenta abordar diversos assuntos de uma vez. Alguns com acertos e outros não. Em apenas 84 minutos, o longa trata de todo um mundo dos adolescentes e seus conflitos: a descoberta da sexualidade, a eterna necessidade de atenção, as festas regadas à drogas e álcool, a diferença entre a maturidade de homens e mulheres, a inveja material, o conflito com as figuras de repressão (como pais ou polícia). Esses e vários outros detalhes são pincelados aos poucos durante a trama e surgem de forma natural como fator condutor da história. Já parece bastante coisa, certo? Mas tem mais, no entanto, não com o mesmo êxito. Hill também tenta criar camadas para a família de Stevie, mas não consegue se aprofundar nem na mãe – tratada apenas como mais uma pessoa que não enxerga que seu filho está crescendo – nem com o irmão, um típico valentão que, ao ter a chance de se redimir, perde o foco da câmera. Talvez o único detalhe mencionado brevemente durante a trama, mas, mesmo assim, bem notável, tenha sido um diálogo sobre o abismo na diferença de perspectivas de vida entre negros e brancos. Foi rápido, porém, no cerne do assunto.
Apesar desses deslizes de roteiro, uma coisa consegue transformar Anos 90 em umas das melhores representatividades da época já vista no cinema: as atuações. Como todo bom filme em que “nada acontece”, a construção e o carisma dos personagens carregam o espectador pela história. Os adolescentes são perfeitos! Eles têm a idade certa; são de diferentes classes sociais, cores e etnias; conversam coisas bobas típicas da idade; em momentos têm inseguranças e em outros se acham invencíveis. Tudo neles é tão genuíno a ponto de me perguntar se não estavam improvisando durante quase todo o filme. Obviamente, o destaque na atuação desses meninos vai para o protagonista. Sunny Suljic é expressivo e nos convence com seu olhar desde a primeira cena: às vezes brilham por ele estar impressionado com o que está vivendo, mas também podem condenar e odiar como quando ele explode no carro após receber uma punição. Sem dúvida, Lucas Hedges e Katherine Waterston são os nomes mais famosos do elenco, mas seus personagens são prejudicados por um roteiro que lhes dá tão pouca atenção que nem se preocupa em nomear a mãe.
Em suma, Anos 90 peca por perder grandes oportunidades de engrandecimento de alguns personagens, mas é um filme intrigante de se assistir, não só pela nostalgia de uma década, como pelo recorte verdadeiro de uma importante fase na vida de qualquer pessoa.
Atentado ao Hotel Taj Mahal | Crítica
Definitivamente é muito fácil um filme me fazer chorar, mas, a maioria das vezes, é algo momentâneo que ocorre durante uma cena e passa logo depois. É raro que eu realmente fique chocada, impressionada ou impactada com o que eu acabei de assistir na tela grande. Atentado ao Hotel Taj Mahal é um desses casos. O longa dirigido por Anthony Maras conta a história real da série de atentados realizados em Mumbai, na Índia, em 2008. Esse filme me marcou de tal jeito, que estranhei quando subiram os créditos porque tinha esquecido que estava dentro de uma sala de cinema.
O longa segue o padrão do gênero de desastre e foca em personagens específicos para que acompanhemos suas trajetórias. Dessa maneira, com todo o cuidado da direção e do roteiro, conhecemos um pouco sobre as vítimas desse massacre: a família rica que acabou de chegar ao hotel, a jovem babá que os acompanha, o funcionário que vive em uma situação precária, o chefe que vê os hóspedes como deuses, o empresário rabugento que se mostra uma boa pessoa, o casal de turistas que é surpreendido no meio do mochilão e várias outras pontas que vão aparecendo e sumindo no decorrer do filme. O elenco estelar conta com Dev Patel, Armie Hammer, Nazanin Boniadi, Anupan Kher e Jason Isaacs. Todos estão excelentes. Eles entenderam a agonia de cada um de seus personagens e, assim, conseguiram transmiti-las para os espectadores com facilidade.
O filme nos ganha na tensão e na empatia. Na tensão, porque sabemos o que aconteceu, mas não temos ideia de como tudo se desenrolou e muito menos quem sobreviveu. É uma eterna dúvida sobre o que é real e o que foi inventado para o filme. Os planos são longos, o que nos deixa esperando, e esperando, e esperando até acontecer alguma coisa – ou não. E é aí que entra a empatia. Nós estamos em cada um desses personagens e nos imaginamos nas mesmas situações. O temor aparece quando o personagem toma a ação que seria nossa escolha e morre logo em seguida. Quantas vezes não me peguei pensando “eu já estaria morta nessa hora”. A situação de caos é presente o tempo inteiro e não temos como julgar a reação de cada um deles. Não existe mais certo e errado. Não existe mais sentido.
A direção acerta ao explorar o máximo possível da beleza do hotel, dando toda a sensação de castelo impenetrável, para depois, desconstruir tudo isso e mostrar o ambiente em pedaços. De novo, sentimos como se fôssemos hóspedes, como se frequentássemos o hotel e lamentamos sua destruição – muito próximo da sensação que pairou no ar depois do incêndio da Catedral de Notre-Dame de Paris. A edição de som também funciona perfeitamente trazendo os barulhos de bombas e tiros para o ouvido do espectador de forma surpreendente. É um tipo de jump scare que, em uma situação realista, funcionam muito melhor que em filmes de terror preguiçosos.
Embora cheio de méritos, o longa não consegue se livrar de alguns clichês típicos do gênero, como todos os celulares acabando as baterias ou o bebê que pode chorar a qualquer momento e entregar a localização das vítimas. Por mais que o roteiro tenha se preocupado em marcar a passagem do tempo com legendas explicativas, fica a impressão de que ele poderia ter escolhido outro recurso para que determinadas ações acontecessem. Outra questão incompleta são alguns personagens que são introduzidos, mas esquecidos com o passar da trama. Entretanto, o que mais me chamou a atenção foi a sensação de desperdício com relação à história dos terroristas. Mesmo mostrando alguns de seus propósitos, conhecer um pouco de cada um deles daria uma profundidade a mais no longa.
Atentado ao Hotel Taj Mahal é um filme forte, envolvente, que me fez tremer até do dedo mindinho a ponta de cada fio de cabelo. Ele consegue prender o espectador, emocionar e apavorar através de um dos fatores mais incontroláveis do mundo: a crueldade humana.
Amanda | Crítica
Se existissem duas palavras que poderiam resumir, ou melhor, definir Amanda, essas seriam sutileza e simplicidade. O novo longa de Mikhaël Hers trata da perda e do recomeço focando nos detalhes de cada ação e, assim, comovendo o público.
Começamos o filme conhecendo e nos apaixonando rapidamente pela família de David (Vincent Lacoste), sua irmã, Sandrine (Ophelia Kolb) e sua sobrinha, Amanda (Isaure Multrier). Mesmo que por pouco tempo, entendemos que é uma família adorável e adoraríamos acompanhar o cotidiano. É dessa forma que sentimos e nos chocamos com a morte de Sandrine tanto quanto os protagonistas (não é spoiler! Esse é o motor do filme). Ophelia Kolb cria uma personagem carismática, animada e, principalmente, conectada ao máximo com sua pequena família. A partir desse momento, o filme se transforma e começamos a acompanhar uma mudança na vida dos que ficaram.
Eis que as sutilezas e simplicidades da direção e do roteiro começam a aparecer com mais clareza. Simplicidade de uma criança não entender completamente o que a morte de sua mãe significa; sutileza de como um objeto banal pode se tornar tão importante depois de sua perda. Simplicidade de um beijo de despedida de alguém que não quer partir; sutileza de um aperto de mão que poderia ser mais. Simplicidade de choros que fogem do controle em momentos errados; sutileza do silêncio nas horas certas. Simplicidade de como as crianças absorvem certos ensinamentos; sutileza de como outros ensinamentos podem ser bloqueados para alguns adultos por causa de seus problemas pessoais. Esses detalhes, entre muitos outros, que, caso o espectador preste atenção, transformarão Amanda em filme muito mais elaborado que apenas um drama para arrancar lágrimas. Amanda é mais do que isso.
E falando no nome da personagem principal, é impressionante o trabalho da atriz mirim Isaure Multrier. Cada sorriso e cada lágrima são tão verdadeiros que ficamos em sintonia com a menina. Destaque para cena final que é tão bela que, só ela, já vale a ida ao cinema. A atuação do ótimo Vincent Lacoste é essencial para a emoção tocar o público. Mesmo destruído depois de tudo o que passou, o rapaz se sente obrigado a ser forte para poder cuidar da sobrinha. Porém, algumas vezes, ele desaba. E é lindo. Ver sua constante luta interna contra a fraqueza torna esse personagem tão real quanto qualquer um que esteja assistindo ao filme. É fácil se identificar com David e perguntar “o que eu faria se estivesse na situação dele?”.
Apesar de tudo, Amanda não é perfeito. Possui uns dez minutos a mais que o necessário e algumas cenas que poderiam ser cortadas sem fazer falta (uma delas, inclusive, ainda estou me perguntando porque existe, já que foge de toda a experiência que o filme nos proporciona). Mesmo assim, essas pequenas falhas – se é que podem ser chamadas de falhas – não tiram o mérito de Amanda. O filme é um ótimo incentivo para quem não estiver em seus melhores dias, mostrando que, mesmo quando tudo parece perdido, ainda não está no fim.
Mademoiselle Paradis | Crítica
Mademoiselle Paradis não me ganhou de primeira. O filme possui alguns altos e baixos, mas, sem dúvida, suas qualidades são maiores que suas falhas. O longa é baseado na história real de Maria Theresia Paradis (Maria-Victoria Dragus), uma jovem pianista cega que é encaminhada, pela família, a um tratamento para voltar a enxergar.
Seu maior ponto negativo é o ritmo. O filme possui apenas 1h37, no entanto, seu primeiro ato é arrastado e faz parecer que gasta muito mais tempo que sua extensão real. Além disso, o longa se divide para abordar vários enredos de diferentes personagens, porém, nenhum deles é devidamente elaborado, o que distancia e distrai o espectador do tema central. A impressão que fica é que o roteiro queria se manter o mais próximo possível da história verdadeira, mas não teve tempo, ou não conseguiu informações suficientes para aprimorar alguns detalhes. No fim, você se pega pensando “o que aconteceu com tal pessoa?” ou “poxa, mas eu quero saber mais dela?” o que é prejudicial para qualquer narrativa.
Agora, vamos falar dos pontos positivos porque eles são muito mais marcantes. Para começar, a direção de Barbara Albert parece seguir os sentimentos de Maria Theresia Paradis, sendo assim, é contida quando a personagem se sente acuada, mas se solta de uma forma belíssima quando a pianista está confortável. O plano final é a justificativa perfeita do porquê esta história está sendo contada. Além da direção, outro fator (o principal fator, na verdade), que transforma a experiência do filme, é a atuação de Maria-Victoria Dragus. Que atuação! Saí da sala de cinema ainda na dúvida se ela era uma cega que interpretava brilhantemente uma pessoa que enxerga ou uma pessoa que enxerga que interpretava brilhantemente uma pessoa cega. Maria-Victoria traz para o espectador toda a inocência da personagem de maneira leve e verdadeira. Mesmo adulta, ela é como uma criança que começou, recentemente, a conhecer o mundo e escolheu seus melhores amigos no primeiro dia de aula. Seus momentos de crise atingem o coração da plateia e começamos a nos questionar com ela, se a cegueira não seria sua melhor opção. Isso tudo sem falar das cenas ao piano! Os sentimentos, tanto bons, quanto ruins, são tão verdadeiros em seu semblante que conseguimos ler cada pensamento que passa em sua mente. Por último, ainda fiquei interessada em saber mais sobre a vida de deficientes no século XVIII. Um assunto pouco tratado e necessário, inclusive, para a representatividade dessas pessoas na tela do cinema.
Sendo assim, mesmo se você conseguir se manter aberto para a história de Mademoiselle Paradis, o filme não irá te divertir, mas irá te apresentar uma história delicada e repleta de belíssimas cenas, graças, principalmente, ao talento das mulheres à frente da produção.
Mormaço | Crítica
É impossível dizer que Mormaço é um filme inesperado, principalmente para consumidores assíduos de conteúdos audiovisuais. Porém, isso não significa que não seja um filme bom. Muito bom, na verdade. Logo no primeiro minuto, a diretora Marina Meliande já mostra que – por mais que já tenhamos visto histórias parecidas em filmes como Aquarius, Mãe e até Piratas do Caribe – seu longa tem um diferencial.
A história gira em torno de Ana (Mariana Provenzzano), uma defensora pública que se vê presa duas vezes na mesma situação. De um lado, o proprietário do prédio onde ela mora tenta convencer os inquilinos a venderem seus apartamentos para a construção de um hotel. No outro, Ana tenta defender um grupo de pessoas da Vila Autódromo que veem suas casas sendo destruídas pela Prefeitura para a realização das obras antes dos Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro. No meio desse impasse duplo e em pleno verão carioca, Ana começa a desenvolver manchas em seu corpo, coisa que nenhum médico consegue entender ou curar.
Em meio à metáforas e protestos contra a falta de políticas públicas que acolham o cidadão, Mormaço consegue, de forma brilhante, incluir a fantasia no mundo real. Marina Meliande nos conduz para entrar na história aos poucos e assim, o que poderia parecer surreal, nos parece familiar e, infelizmente, previsível. No entanto, a previsibilidade, aqui, não é um defeito. Não é a reviravolta que importa, e, sim, a história em si. Outro mérito do longa é o mise-en-scène que utiliza os ambientes do Rio de Janeiro para reimaginar obras conhecidas, como Os Retirantes, de Cândido Portinari. Além disso, os cenários são criados de forma que possamos identificar as características dos personagens em seus ambientes particulares (uma delas até lembra a Umbridge, de Harry Potter). A fotografia também é certeira em passar, para o espectador, a ideia de um ambiente caótico, efeito do calor desesperador e do caos na vida da cidade.
Mariana Provenzzano carrega o longa. A atriz interpreta com os olhos e não é difícil perceber, logo no início, que ela está alheia a sua própria vida por se importar muito mais com o bem-estar dos outros. É através dela e sua doença que entendemos as alegorias propostas pelo roteiro com relação à moradia e à falta dela. Dá gosto de ver o cuidado que todos os elementos do filme têm para construir a personagem. Ela é real: tem gostos, prazeres, manias, comete erros, briga, xinga, se questiona, duvida de si mesma... assim como qualquer um do lado de fora da tela do cinema.
O longa participou da seleção dos festivais de Gramado, do Rio de Janeiro e de Rotterdam. Ou seja: só por isso, já vale uma chance de ser assistido. Mas, no fundo, a verdade é que Mormaço pode ser muitas coisas: um entretenimento fantástico, uma crítica social ou uma experiência sensorial de cada um na plateia. Contudo, por mais que exista a chance de você pensar que já viu aquela história antes, o filme consegue te envolver e acertar em cada uma de suas propostas, transformando o fantástico em natural e o corriqueiro em pavoroso.
B.O. | Crítica
Um filme sobre cinema para quem faz cinema. Esse poderia ser o slogan de B.O., comédia de Daniel Belmonte e Pedro Cadore. A história gira em torno de Pedro (Daniel Belmonte) e Fabricio (André Pellegrino), dois jovens cineastas frustrados que tentam provar para o mundo que conseguem produzir um filme de sucesso. Por isso, resolvem fazer um drama de baixo orçamento para passar em festivais e terem dinheiro para seus próximos longas.
Sendo muito sincera, eu gostei de B.O. A metalinguagem do filme fez com que eu visse várias situações cotidianas da minha vida de estudante de cinema. Os discursos clichês de parentes dizendo que a arte não dá segurança na vida e que deveríamos fazer concursos públicos, as constantes brigas nos sets quando a equipe não consegue se entender, a dificuldade de produzir um filme quando você não tem dinheiro nenhum e tudo é na base de favor (o próprio B.O. foi financiado por uma campanha de crowdfunding), aquele colega riquinho que se acha porque o pai banca todos os filmes e outros white people problems que, se eu contasse aqui, estragaria a experiência do filme. E muito se engana quem pensa que tratar dessas questões “bobas” é um problema. Pelo contrário, esse é um mérito do filme.
Outro mérito é como que acompanhamos ao processo criação do filme dentro do filme desde a brainstorm para a criação do roteiro, até “correr na pós” com montagem que tenta corrigir todos os erros dos dias de gravação. Também é hilário assistir ao ator dedicado que aplica o Método Stanislavski para não sair do papel. Através da câmera do diretor (do filme inventado), conseguimos nos imaginar assistindo verdadeiramente ao resultado no cinema, o que cria vários momentos de vergonha alheia verdadeiramente engraçados. E eu preciso destacar a “cena do aeroporto” cuja fotografia belíssima e trilha sonora tocantes são utilizadas de forma extremamente irônica para exemplificar cada clichê que estamos acostumados a assistir na tela grande.
Mesmo com vários acertos, B.O. erra, principalmente, com seus personagens. Amaral (George Sauma) é insuportável. Por mais que essa seja a intenção, ele segue completamente o arquétipo do amigo sem noção. É chato, inverossímil e 100% unidimensional, mais parece o personagem de um programa ruim de comédia da TV aberta. Outro problema é Nanão Cordeiro, personagem de Hernane Cardoso . Por mais que exista uma tentativa de aprofundar o youtuber através da temática atual sobre a escravidão de inscritos e likes, suas crises de estrelismo são tão ruins que não tem como assimilar esse aprofundamento e nós paramos de nos importar com o personagem rapidamente. Por último, Daniel Belmonte e André Pellegrino estão bem nos papéis de diretor e roteirista desesperados para conseguir completar seus projetos. Até é possível enxergar talento nos personagens, mas os atores são engolidos pelos clichês dos coadjuvantes.
B.O. é um longa cheio de ironias cômicas, a montagem é criativa e se destaca em momentos memoráveis como um final fake e uma festa inesperada no meio das gravações. A direção é autoral e faz questão de se mostrar presente através de uma câmera na mão e bem íntima e tremida. No entanto, no meio de várias qualidades, o filme pode perder a atenção do espectador pela especificidade do seu roteiro. Se você não entendeu alguns dos termos que usei para esta crítica, como o Método Stanislavski ou “correr na pós”, não se sinta mal. Isso é porque você não pertence ao nicho que realmente deve se sentir atraído pelo filme. Como eu disse no início, B.O. é um filme sobre cinema para quem faz cinema e, exatamente por isso, sua maior qualidade é também seu maior defeito. Enquanto alguns irão sair se sentindo representados da sala do cinema, talvez outros não tenham nem a experiência de um sorriso de canto de boca.
A Vida de Diane | Crítica
Até mais ou menos a metade do filme, não sabia se A Vida de Diane iria render uma crítica interessante. Mas foi com a cena do bar que tive um estalo e comecei a apreciar mais o que eu estava assistindo. O longa de Kent Jones é um típico filme que levaria uma atriz a ser indicada ao Oscar. O enredo me lembrou um pouco Para Sempre Alice, de 2014, por abordar questões como perda, envelhecimento e memória. Somos apresentados a Diane (Mary Kay Place), uma viúva aposentada, cuja essência da vida é se preocupar com os outros, seja ajudando moradores de rua, ou visitando parentes e amigos. Ao longo do tempo, enquanto ela lida com várias ausências, também tenta se reaproximar do filho viciado em drogas e entender o significado de sua própria vida.
Estamos tratando de um filme duro na forma que demonstra a realidade de uma mulher que vive rodeada de pessoas, porém, é solitária. Por isso, o longa é lento e até um pouco monótono. O silêncio é imprescindível para ressaltar cada barulho fora do padrão que soam como uma metralhadora. A fotografia se alterna entre cores quentes e frias a medida que ela vai se deparando com cada perda. A câmera do diretor observa a vida de Diane de longe, nunca deixando sua perspectiva aparecer em cena. Nunca não, há um elemento que se repete diversas vezes durante o longa e é a única vez que vemos o que a personagem vê: as estradas. A estradas que são utilizadas, não apenas como transições de tempo e espaço, mas como caminhos, rotinas, decisões, algumas mais retas e acessíveis, outras mais curvas e perigosas.
É difícil não se pegar imaginando como serão nossas vidas no futuro. Ver Diane perdendo cada amigo nos faz questionar sobre a sorte – ou não – de uma vida longa. A inversão de papéis sociais também é abordada. Filhos que viram pais de seus pais e começam a achar que possuem autoridade sobre eles, pais que dependem dos filhos, mas não podem admitir para si próprios tais posições. Qual amor é o correto? Os filhos podem realmente interferir na vida dos pais? Os pais devem insistir em se envolver nas vidas dos filhos já adultos? É melhor ficar sozinho e não atrapalhar ninguém? Todas essas questões são colocadas aqui e cabe ao espectador tirar suas conclusões sobre ela.
O longa se empenha na construção de cada personagem, não importando sua relevância na trama. Mary Kay Place está excelente como alguém que cansou de correr atrás da própria vida e agora espera a morte – de seus amigos e a sua. A renuncia a si mesma é dolorosa durante todo o filme, mas é preciso destacar o momento do bar onde choro e riso se confundem e acalentam um pouco de nossos corações. Jake Lacy consegue captar as duas principais fases do filho Brian de forma bem completa. É possível ver e sentir a mudança do personagem com o passar dos anos. É uma pena que a relação com sua mãe nunca pareça completa. Além disso, todos os coadjuvantes, as pessoas queridas que Diane vai perdendo com o passar do tempo, são presentes durante o filme. Sentimos essas faltas assim como a personagem principal e, enquanto nós preenchemos esse vazio com mais um pouco da história, Diane escreve poesias e recados para ela mesma.
A Vida de Diane pode parecer um filme simples, mas é áspero, denso e contemplativo. O drama não é para chorar, mas para nos questionar como as relações interpessoais mudam durante a vida e se estamos preparados para os vários possíveis futuros que nos aguardam.
A Costureira de Sonhos | Crítica
Já perdi a conta de quantas vezes assisti a temática da relação entre patrões e empregadas domésticas na tela do cinema. No entanto, felizmente, cada filme possui sua linguagem própria e sempre acrescenta algo a mais naquilo que imaginávamos já saturado. Essa é a ideia de A Costureira de Sonhos. Mas não desistam ainda, a diretora Rohena Gera tem muito a falar. O longa nos conta a história de Ratna (Tillotama Shome), uma doméstica que trabalha e mora na casa do patrão recém separado Ashwin (Vivek Gomber). Enquanto ela luta para realizar o sonho de ser estilista de moda, ele vive perdido na vida, tentando agradar a família e os amigos.
Logo de cara, somos apresentados à Ratna através de suas costas. A diretora, frequentemente, utiliza o recurso de um plano traseiro para vermos a reação das pessoas para com a empregada. Todo o filme é sobre o que a sua figura representa para ela mesma e para a sociedade a qual pertence. É raro que Rohena mantenha sua câmera próxima das personagens. Ela mantém uma distância razoável e deixa a história se desenvolver naturalmente. Sua sutileza nos cortes, trilha sonora envolvente e personagens carismáticos, faz com que mergulhemos nesta experiência de cabeça e torçamos para que certas coisas aconteçam mesmo que tenhamos certeza da improbabilidade.
É quase impossível tratar da temática “patrão e empregada” sem fazer algumas comparações, principalmente com tantos filmes recentes sobre o assunto, mas parece que A Costureira de Sonhos tenta fugir daquilo que foi feito nos últimos anos. Para começar, ao contrário de Roma, Que Horas Ela Volta? e Casa Grande, não há crianças no filme, ou seja, não é a relação de uma segunda mãe que é abordada pelo longa. Da mesma forma que a empregada não é considerada “quase da família” em momento nenhum, pelo contrário, por mais que exista um respeito e até sentimentos a mais entre os dois personagens, Ratna é uma empregada e é tratada como tal. Além disso, diferentemente de seus contemporâneos, a personagem não é apenas uma empregada, ela é uma pessoa que tem sonhos e possui uma perspectiva de futuro, por mais que essa perspectiva não seja para todos os assuntos de sua vida (já, já eu explico melhor).
Continuando as inevitáveis comparações, foi difícil não lembrar de Roma, ao perceber que as empregadas conversam entre si com um idioma local, enquanto o patrão, sua família e amigos conversam em inglês. Assim como é possível fazer uma associação imediata à duas cenas de Que Horas Ela Volta?, mesmo que cada filme dê diferentes significados para os atos. A primeira, quando as empregadas dão presentes de aniversário para seus patrões. A segunda, quando elas se permitem transgredir a tudo aquilo que sempre entenderam como certo e errado – no caso do longa brasileiro, a empregada entrando na piscina; no caso do indiano, a empregada chamando o patrão pelo nome, o que remete ao título original: Sir, senhor em português.
Os atores conquistam o espectador com o carisma. Tillotama Shome tem o desafio de interpretar uma personagem inteligente e sonhadora que tem plena noção de que, como mulher, pode traçar passos mais largos em sua vida, porém, como empregada, por causa de sua classe social – ou casta como é dito na Índia – não pode ser iludida por todas as situações que são propostas. É duro acompanhar sua expressão quando Ratna se sente humilhada ou apreensiva, mas também é um alívio ver como ela supera cada desafio e se coloca pronta para o próximo logo em seguida. Enquanto isso, Vivek Gomber tinha tudo para nos apresentar mais um patrão folgado, que está presente apenas para cumprir uma necessidade do roteiro, no entanto, não é isso que acontece. Ashwin é um personagem desenvolvido, que tem uma excelente vida financeira, mas nem por isso é feliz. Ele comete erros, acertos, tem dúvidas e inseguranças perante à cobrança da família. Por mais que, no início, ele se ache mais importante que Ratna, acreditamos em sua mudança ao decorrer do filme.
Por fim, um mérito do longa é retratar uma Índia pouco vista na tela do cinema, completamente fora dos clichês de blockbusters com centenas de figurantes dançando coreografias complexas. Contudo, para mim, A Costureira de Sonhos não é um filme indiano. É um filme universal que questiona o papel da mulher na sociedade falando sobre educação, trabalho, independência e sororidade. No fundo, o que a diretora nos mostra é que, não importa se estamos na Índia, Brasil, México, EUA ou China, as histórias sempre se repetem.
A Sombra do Pai – deem uma chance ao terror nacional
Gabriela Amaral Almeida é uma das minhas diretoras nacionais preferidas. Muitos dizem que Animal Cordial, de 2018, é seu único trabalho conhecido, porém, se esquecem que, antes disso, ela já havia dirigido outros curtas premiados como A Mão que Afaga e Estátua!. Gabriela é a única que, ultimamente, consegue me tirar de casa para assistir a um filme de terror no cinema e não poderia ser diferente com A Sombra do Pai.
O enredo gira em torno da pequena Dalva (Nina Medeiros) que, após a morte de sua mãe e o casamento de sua tia (Luciana Paes) se vê sozinha cuidando do pai (Júlio Machado), que está em depressão. Dessa forma, ela percebe que a maneira mais fácil de resolver todos os seus problemas é trazendo sua mãe de volta do mundo dos mortos. Se você curte ir ao cinema assistir a um horror e se assustar a cada dez minutos, talvez esse não seja o filme mais recomendado. O trabalho da diretora é um terror psicológico focado nos detalhes. Desde um barulho de saco plástico ensurdecedor no meio de um silêncio continuo, a uma montagem que transforma uma festa de São João num verdadeiro Halloween, ou uma câmera colada à nuca dos atores que tira completamente a visão periférica do espectador. O terror está lá o tempo todo, só não precisa ser jogado na sua cara através de figuras grotescas ou notas agudas na trilha sonora.
Você já imaginou se emocionar em um filme de espírito que não envolva nada relacionado ao Chico Xavier? Ou assistir a um terror sem nenhum susto? Ou pior: perceber que você está angustiado enquanto, para as personagens, não existe terror nenhum?! É esse o tipo de filme que Gabriela trabalha. O longa é cheio de referências a outros clássicos do horror, em especial a Cemitério Maldito, de Stephen King. Além disso, ele não tem medo de brincar com o clichê da imagem macabra das crianças nos filmes do gênero deixando claro, desde o início, que a vida dos vivos é muito mais cruel que os espíritos dos mortos.
Nina Medeiros interpreta Dalva de uma maneira tão natural, que é difícil de acreditar que a atriz esteja realmente representando. Ela é seca, expressiva, desconfiada e corajosa, tratando as entidades como amigas de longa data. Júlio Machado definha diante de nossos olhos ao passo que sua depressão aumenta. Ele vira, praticamente, um zumbi e não precisa de muitas palavras para mostrar que não sabe como continuar a vida sem a esposa. Luciana Paes repete a parceria com a diretora e consegue evoluir uma personagem que teria tudo para ser esquecida no momento em que sai de cena. No entanto, sem ela, sabemos que a história teria tomado outros rumos.
Gabriela Amaral Almeida e o seu acertado A Sombra do Pai são dois exemplos do porquê devemos, sim, valorizar o terror nacional. Um filme que ultrapassa o seu gênero e tira o sono do espectador – mas não pelo medo, e sim pela inquietude provocada por seus questionamentos.
Compra-me um Revólver | Crítica
Engana-se quem pensava que Pablo Escobar era uma figura essencial para filmes sobre cartéis de drogas. Compra-me um Revólver escolheu uma criança como personagem principal de sua história mostrando uma perspectiva pouco explorada no cinema. O longa conta como a pequena Huck (Matilde Hernandez), uma menina que se esconde atrás de uma máscara e roupas largas, ajuda seu pai, viciado, a cuidar de um campo de beisebol frequentado por traficantes.
Com direção e roteiro de Julio Hernández Cordón, o filme nos é apresentado como um relato da protagonista. Huck narra os acontecimentos quase sussurrando, como se estivesse escrevendo em um diário e o que assistimos são suas palavras. A cenografia do pequeno ambiente é muito bem elaborada e faz que com que entendamos a precariedade daquela vida com um único plano. Visualmente, o filme é muito bonito. A montagem e a fotografia se fazem presentes através de cortes abruptos que nos causam uma confusão mental muito próxima da que a personagem vive e cores fortes que nos saltam ao olhar no meio de todo um ambiente seco e caótico. Há uma cena, após um confronto, onde Huck anda no meio de vários corpos e eles são representados como desenhos infantis que fez meus olhos encherem de lágrimas por tentar compreender tudo o que se passa na cabeça de uma criança tão pequena em um ambiente tão hostil.
A relação entre Huck e seu pai é verdadeira. Sentimos a preocupação de um com o outro: enquanto ela entende o trabalho e o vício do pai, ele se mostra destruído por sua realidade, mas, ainda assim, desesperado para se manter vivo e proteger a filha custe o que custar – inclusive deixá-la acorrentada e fantasia-la de homem para que não a perca. Porém, é na extensão dessa relação que o filme se perde. Somos apresentados há diversos fatos e personagens que abrem uma série de perguntas que nunca são respondidas. É impossível sair do cinema sem a sensação de que faltou algo ali. Por que eles continuam naquele lugar mesmo controlado por traficantes? O que aconteceu com o resto das pessoas que moravam nas redondezas? De onde surgiram aquelas crianças que parecem os meninos perdidos de Peter Pan? E a história da sorte? Por que o pai abandona a filha no momento mais perigoso da trama? Por que a escolha desse fim? E por que ela nunca consegue obedecer ao pai mesmo sabendo do perigo? Essas e muitas perguntas me deixaram com a sensação de que o longa quis ser pretencioso e deduzir que essas informações não seriam importantes para os espectadores, focando apenas no curto espaço de tempo que a história se passa. O problema é que nenhum filme acontece apenas na tela do cinema, ele precisa ser construído e pensado em todas as direções, incluindo o passado e o futuro.
Dessa forma, Compra-me um Revólver termina sendo um longa com potencial desperdiçado que possui um excelente início, um elenco competente, personagens interessantes e um visual brilhante, mas se perde ao esquecer que, em um mundo desumano, pequenas atitudes são pagas com a vida. Assim, aquilo que poderia ter sido uma bela análise sobre como a crueldade e a humanidade podem andar lado a lado, termina se tornando um grande questionamento sem resposta nenhuma e difícil de acreditar.
Fora de Série | Crítica
Olivia Wilde faz parte de um seleto grupo que acerta de primeira. Fora de Série, sua estreia na direção, é uma ode à amizade e uma representação real da adolescência. Molly (Beanie Feldstein) e Amy (Kaitlyn Dever) são duas garotas nerds que abdicaram da vida social para focar nos estudos até perceberem que deveriam aproveitar, pelo menos, o último dia antes da formatura e fazer tudo o que não fizeram durante o Ensino Médio. Com essa sinopse, é possível lembrar de vários filmes de comédia pastelão que abordam as “aventuras muito loucas de jovens que querem se divertir”, com Superbad ou Projeto X, mas o longa de Wilde prova seu diferencial a cada cena.
Para começar: diversidade! A princípio, lembrei da série Glee ao ver como os vários grupos são representados, porém, Fora de Série vai além. A escola onde as meninas estudam parece ser uma utopia estudantil. São alunos de todas as raças, sexos e tribos, banheiros sem definição de gênero, professores e diretores que confiam nos alunos, pessoas praticando seus hobbies no meio do pátio e sem bullying. Parece real? Sim e não. Por mais que seja difícil imaginar um ambiente tão harmônico, principalmente quando o relacionamos a adolescentes, essa escola parece tentar imaginar o que seria o ideal com as atuais mudanças na sociedade e consegue muito bem.
As questões que se passam nas cabeças dos jovens são tratadas com perfeição pela diretora e pelo roteiro. De início, há um ar brega no filme, mas de forma proposital, mostrando como tudo durante esse período de nossas vidas pode ser ridículo ou transformado em uma grande catástrofe em segundos. Não lembro de ter visto um projeto que tratasse da sexualidade como algo tão natural da vida humana, assim como pulei da cadeira quando percebi como o feminismo é pauta chave pra o roteiro. As personagens se questionam se estão sendo hipócritas em suas decisões relacionadas a outras mulheres, falam sobre pornografia e masturbação, quebram o velho estereótipo de rivalidade entre mulheres por causa de um personagem masculino e mencionam de forma habitual nomes importantes do movimento, como Time’s Up e a militante Malala Yousafzai. Todos os debates são extremamente atuais e, principalmente, verdadeiros. Ao mesmo tempo que elas são muito seguras de si em certos quesitos, possuem várias dúvidas sobre seus papeis em outros.
Como já deu para perceber, está difícil destacar apenas alguns recortes do filme, mas gostaria que todos prestassem atenção na montagem e na trilha sonora. A edição acompanha cada sentimento das personagens e traz ao espectador a experiência sensorial de tais emoções. Já a trilha ajuda essa montagem com eficiência, ampliando o significado das cenas e se aproveitando de possíveis referências prévias do espectador. Outra coisa que merece um olhar mais aprofundado são os atores. Todos eles. É raro adolescentes aparentarem serem adolescentes em filmes de Hollywood, então, encontrar bons atores, com a aparência das idades certas, que passam veracidade em todas as ações e expressões, é um deleite para os olhos. Até aqueles que poderiam parecer meros arquétipos, possuem suas devidas reviravoltas.
São poucas as coisas que me incomodaram no longa, a principal delas é uma sequência em stop-motion que, por mais inesperada que seja, não sei se encaixou bem com tudo o que já havia sido apresentado. Ah, e um aviso aos mais racionais: é preciso estar bem aberto ao absurdo para poder apreciar o longa. Embora o bom trabalho da direção consiga nos convencer de que tudo ali é possível, caso sua suspensão da descrença seja realmente muito baixa, talvez você prefira outro filme. Além disso, também há alguns clichês quase impossíveis de se esquivar: os pais sem noção, o aluno apaixonado pela professora, a maluca da turma... Porém, isso é tão pouco se levarmos em consideração todos os méritos do filme, que nos permitimos até a gostar desses “errinhos”.
Por fim, Olivia Wilde consegue provar como um humor inteligente, recheado de vergonhas alheias e até bem inclusivo, pode renovar uma fórmula ultrapassada da comédia. Fora de Série é, ou deveria ser, o futuro bem-sucedido de um gênero que, aparentemente, só melhora à medida que incorpora cada vez mais a realidade do mundo em sua essência.